Ganho de capital obtido por pessoas físicas em operações de incorporação de ações
1 - Introdução
As operações de incorporação de ações, previstas na lei societária desde 1976, ganharam certa notoriedade depois que as autoridades fiscais lavraram autos de infração contra pessoas físicas exigindo imposto de renda sobre ganhos de capital. O referido ganho de capital surge nos casos em que a pessoa física que detém ações ou quotas da sociedade incorporada recebe ações da incorporadora pelo valor de avaliação apurado em laudo exigido pela lei; assim, se o valor de avaliação for maior que aquele constante da última declaração de rendimentos surge uma diferença a que as autoridades fiscais atribuem o caráter de ganho tributável.
Muitos dos autuados têm apresentado defesas no âmbito administrativo argumentando que o imposto é indevido porque a operação implica em simples permuta de títulos de participação, e que, portanto, tal fato não é idôneo para deflagrar a incidência da norma que dispõe sobre a apuração de ganhos de capital tributáveis. Em reforço a esse tese principal se diz, amiúde, que a tributação, se exigível, quedar-se-ia injusta porquanto o acionista não se manifesta por alienar as ações ou quotas que detinha originalmente e que foram trocadas em virtude da operação.
2 - O caráter jurídico da incorporação de ações
A incorporação de ações é operação regida pelo art. 252 da Lei nº 6.404/76 e que tem por objetivo a criação de uma subsidiária a partir de sociedade já existente. A sociedade que se transformará em subsidiária integral é chamada "incorporada" e a sociedade que deterá a totalidade das ações é denominada "incorporadora". Não há semelhança com a operação de incorporação de sociedade, que é um modo de extinção da sociedade incorporada, posto incorporação de ações ambas as sociedades permanecem, com modificação apenas no capital da incorporadora e a consequente migração do corpo de acionistas da sociedade incorporada para a sociedade incorporadora. Enfim, os sócios ou acionistas "trocarão" as ações ou quotas do capital daquela que se tornará subsidiária integral por ações ou quotas da sociedade incorporadora que, em decorrência, terá o seu capital aumentado mediante a emissão de novas ações ou quotas. Se aprovada a operação, por força do disposto no § 3º do art. 252 da Lei nº 6.404/76:
"os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem".
Da interpretação conjugada dos preceitos dos parágrafos 1º a 3º do art. 252 da Lei 6.404/76, resulta claro que tal operação: (a) está na esfera de competência exclusiva dos acionistas, que devem aprovar a operação, tanto na sociedade incorporada como na incorporadora; ( b ) é necessária avaliação das ações ou quotas a serem ofertadas em aumento do valor do capital da sociedade incorporadora, e esta (a avaliação) se justifica como medida de equidade para proteção dos direitos dos acionistas em geral, especialmente os minoritários de ambas as sociedades; © na subscrição do aumento de capital os diretores, por força de lei, agem como mandatários dos acionistas da sociedade incorporada; e, (d) os acionistas das sociedades envolvidas podem exercer o direito de recesso mediante reembolso do valor de suas ações; ou, ainda, vender suas ações se não puder exercer o direito recesso que não existe nas companhias abertas em que as ações tenham liquidez e dispersão, na forma do disposto no item II do art. 137 da Lei nº 6.404/76.
No texto da Lei nº 6.404/76 não é feita menção à palavra "troca". O enunciado do art. 252 da citada Lei limita-se a estabelecer, no enunciado do § 1º, que a assembleia da sociedade incorporadora "deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas". No entanto, o caput do citado preceito faz remissão ao protocolo previsto no art. 224, que, no inciso I, exige que no citado documento conste "o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição". A lei, portanto, fala em "substituição" e esta mesma palavra é utilizada no enunciado do art. 264 da mesma Lei.
A existência de troca (ou substituição) em tais circunstâncias é algo que não comporta dúvidas porque há um intercâmbio (do ut des, como diziam os antigos), de modo que o acionista da sociedade incorporada adentra a assembleia geral desta como titular de ações de seu capital e sai como acionista da sociedade incorporadora; esta última, por sua vez, adquire as ações necessárias para completar o percentual cem por cento e "paga" por essa aquisição com títulos de seu próprio capital. O acionista da sociedade incorporada poderá vir a receber títulos de natureza diversa dos entregues (pode entregar quotas ou ações e receberá sempre ações) com direitos patrimoniais e políticos distintos, como os outorgados a ações preferenciais em relação às ações ordinárias, e ambas as espécies podem pertencer a diversas classes, na forma do art. 15 da Lei nº 6.404/76.
A operação tem sido incluída entre as chamadas reorganizações societárias em face do disposto no § 4o do art. 264 da Lei nº 6.404/76, mas a doutrina do direito societário não deixa de sublinhar que a operação, ao fim e ao cabo, não passa de uma forma de aumento do capital social. Para os doutos Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro (Das sociedades anônimas no direito brasileiro, v. 2, p.727-728):
"na verdade, a incorporação de ações nada mais significa do que um aumento de capital social de determinada companhia brasileira, mediante a conferência, pelos subscritores, de todas as ações do capital de outra sociedade, que se converte em subsidiária integral, recebendo seus ex-acionistas ações novas do capital da primeira". Em igual sentido, Fran Martins (Comentários à lei de sociedades anônimas. v. 3, p. 316) observa que "a conversão de uma sociedade anônima existente em subsidiária integral mediante a chamada incorporação das ações da primeira no patrimônio da segunda nada mais é do que um aumento de capital da sociedade controladora". A mesma doutrina é difundida por Luiz Gastão Paes de Barros Leães (Pareceres v. 2, p. 1413) quando diz: "Em síntese, o processo de incorporação de ações se resume num aumento de capital da incorporadora, com versão do patrimônio líquido da incorporada, cujos acionistas recebem ações novas emitidas pela incorporadora, em consequência do aumento". Também Nelson Eizirik (Temas de direito societário, p. 344) segue pela vereda ao afirmar que "a incorporação de ações apresenta natureza jurídica de um aumento de capital integralizado em bens, o qual apenas segue procedimento semelhante ao estabelecido pela Lei das S. A. para as operações de incorporação de sociedades".
A operação, como parece evidente, tem como negócio jurídico essencial um aumento do valor do capital da sociedade incorporadora, o qual, no entanto, está sujeito a normas especiais já que visa a uma finalidade distinta do que simples obtenção de meios de financiamento das atividades sociais.
3 - A Lei Tributária aplicável
Depois de aprovada pelas instancias competentes de ambas as sociedades envolvidas (incorporadora e incorporada) a operação tem como consequência um fato de fácil explicação e demonstração: aquele que detinha ações de uma sociedade, registradas em sua declaração de rendimentos por um determinado valor, as entrega para adquirir ações de outra sociedade pelo valor atribuído pelas partes e que consta dos documentos públicos (sujeitos a registros nos órgãos do Registro do Comércio). Se em virtude da avaliação esse valor púbico for maior que o informado na citada declaração de rendimentos, há uma diferença que deve ser qualificada diante das normas tributárias.
No atual Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) a troca de ações pode vir a ser enquadrada em dois preceitos, a saber: (a) no art. 117, que dispõe sobre o cálculo do imposto nas operações em que ocorre a alienação de bens, ou, ( a ) no art. 132, que dispõe sobre a apuração do ganho de capital na transferência de bens em integralização de capital subscrito. Nesse último caso, se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
As normas diferem entre si ao menos sob a perspectiva semântica; a primeira elege como fato gerador a alienação e suas diversas formas de exteriorização, enquanto que a segunda elege a transferência de ações ou quotas por valor superior ao constante da última declaração. A possibilidade de enquadramento do eventual ganho em duas normas, no entanto, não significa prima facieque haja entre elas uma relação de contrariedade ou colisão.
Não há quem duvide que a palavra "troca" designa o mesmo que "permuta", e esta constitui uma espécie de alienação por definição legal constante da norma do § 4º do art. 117 do RIR/99. Logo, havendo sido caracterizada a troca incide a norma impositiva e ocorre o fato gerador que lei elege como sendo a alienação de bens. Nesse caso, a base de cálculo será o valor atribuído às ações alienadas diminuído do valor constante da última declaração de rendimentos. Por outro lado, não é incorreto cogitar que, no caso, opera-se a transferência de ações ou quotas para integralização de capital subscrito, o que atrai a incidência do art. 132 do RIR/99, e a base de cálculo corresponderá ao valor atribuído à transferência diminuído do valor constante da última declaração de rendimentos.
Equiparar a transferência à troca (substituição) não constitui absurdo algum já que a aquela é realizada por intermédio de um negócio jurídico de subscrição que visa à aquisição de ações mediante contrapartida sob a forma de bens ou dinheiro. Para Paulo Olavo Cunha (Direito das sociedades, p. 321) a subscrição "traduz a vontade de aquisição originária de titularidade por partes dos destinatários da emissão" Na doutrina do consagrado Pontes de Miranda (Tratado de direito privado. v. 50, p. 122): "quem subscreve põe a assinatura para se vincular à aquisição das ações se a sociedade por ações vier a constituir-se". Na subscrição de capital mediante a entrega de bens a própria lei pressupõe a existência de afinidade estrutural e teleológica com a compra e venda; com efeito, o caput do art. 10 da Lei nº 6.404/76é claro ao estabelecer que a "a responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor". A lei não está dizendo que subscrição é o mesmo que compra e venda, mas prevê que a consequência econômica de tais negócios jurídicos em certos aspectos é idêntica.
Ademais, a mencionada transferência pode validamente ser tida como uma modalidade de alienação já que tem os traços característicos de uma "dação em pagamento", que é uma modalidade de alienação mencionada no § 4º do art. 117 do RIR/99. Para Nelson Eizirik (A Lei das S/A comentada, v. 1, p. 115), trata-se de "alienação, mas de natureza especial", enquanto que Modesto Carvalhosa (Comentários à lei de sociedades anônimas. v. 1, p. 127), considera que "a transmissão da propriedade do bem conferido se dá a título de pagamento de dívida contraída". Como corolário dessa interpretação fica evidente que a regra do art. 132 do RIR não tem campo material de incidência distinto da norma do art. 117 do mesmo diploma normativo. Logo, se válida essa interpretação, a transferência em pagamento de capital subscrito é uma espécie de alienação, que se traduz na ideia de passagem de um bem ou direito de um patrimônio de uma pessoa para o de outra.
Portanto, do ponto de vista da legislação tributária, a operação é suscetível de gerar apuração de eventual ganho de capital com fulcro no art. 117 ou no art. 132, ambos do RIR/99, e a base de cálculo será a mesma.
4 - A renda realizada
Se, ao menos em tese, é indiferente a qualificação com base numa norma ou noutra, permanece a questão de fundo de todas as discussões em torno da validade da tributação.
O que se diz - e com razão - é que, no nosso ordenamento jurídico, a tributação incide sobre renda realizada por força do disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Para justificar essa afirmação os interpretes tendem a associar a ideia de renda realizada com a existência de fluxo financeiro. Se essa associação fosse absoluta e válida em qualquer circunstância, teríamos de intuir que todas as normas que dispõem sobre a tributação com base no regime de competência (para as pessoas jurídicas) são inválidas nos casos em que o ganho da receita não coincide com o fluxo financeiro. No Brasil, a tributação antes da realização da renda existe, se não me falha a memória, desde o advento das normas sobre pagamento do imposto pelos fundos de aplicações financeiras que estão sujeitos ao regime conhecido como "come quotas". Essa forma de tributação não me parece ser compatível com o Código Tributário Nacional a despeito de estarmos assistindo a jurisprudência dizer que o legislador tem amplo poder de configuração da base tributável. Para justificar essa afirmação faço referência às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nºs 582.525 e 586.482.
Ao eleger a alienação como fato gerador do imposto e dizer que esta se exterioriza por intermédio de diversas espécies de negócios jurídicos a lei não condiciona a ocorrência do fato gerador à demonstração de fluxo financeiro. Logo, a lei não diz que a tributação incide apenas se houver dinheiro envolvido e é natural que o faça para dar cumprimento do princípio constitucional da generalidade a que está sujeito o imposto sobre a renda. As relações econômicas de nosso tempo, ninguém desconhece, não são baseadas exclusivamente em fluxos de moeda sonante, e, portanto, é natural que a tributação alcance negócios em que há troca de outros bens avaliáveis em dinheiro. Assim também era na época da edição do CTN que diz o imposto pode ser exigido quando houver disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
No caso presente, o que se diz é que a legislação prevê o diferimento do pagamento do imposto em alguns contratos de permuta sem torna. Tal é o caso, por exemplo, da hipótese prevista no art. 121 do RIR/99, que trata da tributação dos ganhos de capital na alienação de imóveis. De igual modo, é sempre lembrado o fato de que a tese da inocorrência do fato gerador do imposto foi ostensivamente adotada no Parecer PGFN/PGA n. 970, de 23.09.1991, firmado pela Procuradoria Geral da Nacional e aprovado pelo Ministro da Economia e Fazenda, no qual aquele órgão conclui que a entrega, pelo licitante vendedor de leilão no Programa Nacional de Desestatização, de título da dívida pública federal e outros créditos para recebimento de ações de empresas é considerada permuta e que eventual ganho de capital será apurado somente no ato da alienação das ações. Em 12 de maio de 1992, o Ministro da Economia e Fazenda aprovou Parecer PGFN/PGA n. 454 que reitera os termos do citado Parecer PGFN/PGA
n. 970/91 e, em adição, afirma que: (a) na permuta não ocorre o fato gerador do tributo; e, ( b ) a desoneração tributária na permuta não é um privilégio, e sim o reconhecimento da não incidência da regra de tributação que, se existisse, seria considerada inconstitucional por fazer recair a incidência tributária sobre o patrimônio e não sobre a renda, e, ainda, por vulnerar o princípio da capacidade contributiva.
Convém advertir, no entanto, que os referidos Pareceres foram exarados antes do advento do artigo 23 da Lei nº 9.249/95, que é a base legal do art. 132 do RIR/99, e que não faz referência alguma à permuta e prevê o pagamento do tributo se o sujeito passivo entregar seus bens e direitos na integralização de capital por valor superior ao registrado em sua declaração de rendimentos. Portanto, o argumento só seria justificável se o legislador tivesse o dever de tratar toda espécie de ganho de capital de uma mesma maneira, ou seja, como se fosse uma permuta insuscetível de deflagrar a ocorrência do fato gerador do tributo.
Nessa linha de argumentação não se pode negligenciar o fato de que as autoridades fiscais entendem, já há algum tempo, que as operações de incorporação, fusão e cisão, não implicam alienação de ações ou quotas e, portanto, não são fatos idôneos para determinar apuração do eventual ganho de capital. Com efeito, no documento denominado "Perguntas e Respostas", de 2010, publicado no sítio da Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores, as autoridades fiscais afirmam que a substituição de ações ocorridas em operações de incorporação, fusão ou cisão não implica alienação para fins de apuração e pagamento do imposto de renda. Essa mesma orientação é repetida no documento "Perguntas e Respostas de 2013", na questão nº 556. Todavia, na questão nº 557 é reproduzida a norma do art. 132 do RIR/99, que trata do pagamento do imposto na transferência de bens para integralização de capital.
A invocação dessa opinião das autoridades fiscais se baseia em argumento por analogia de modo que as operações de incorporação de ações deveriam ser tratadas da mesma maneira. Ocorre, porém, que a comparação entre a incorporação de ações e a incorporação de sociedade é admissível apenas em relação a certos aspectos formais; do ponto de vista material não há relação de similitude entre elas uma vez que na incorporação de ações não ocorre extinção de sociedade e não há, principalmente, o fenômeno da sucessão, que, ao que parece, fundamenta a opinião fiscal acima transcrita. Na incorporação de ações tudo fica como está; ou seja, as sociedades permanecem e as empresas também; não há extinção da personalidade jurídica e a incorporada não fica obrigada a levantar Balanço e apurar imposto de renda corporativo e também não perde o direito de compensar eventuais prejuízos fiscais. Enfim, a validade do emprego da analogia, neste caso, enfrenta vicissitudes que não podem ser desprezadas.
5 - A manifestação da vontade
Tem sido dito, amiúde, que a exigência de tributo em tais operações é ilegítima porque se o sujeito passivo não manifesta a sua vontade não aliena bens. Para o professor Sacha Calmon Navarro Coelho (Revista Dialética de Direito Tributário n. 77, p. 179): "na incorporação de ações, o contribuinte pessoa física não pratica qualquer ato, não vende, nem aliena as suas ações". Na mesma direção é doutrina do ilustre Alberto Xavier (Sociedade anônima: trinta anos, 2007, p. 139), quando afirma que "na figura da incorporação de ações a operação é realizada entre duas sociedades, a sociedade incorporadora das ações e a sociedade cujas ações deverão ser incorporadas, sendo que o aumento de capital de capital será subscrito por essa última".
Ocorre que, segundo o rito estabelecido pela lei, a entrega das ações que serão substituídas só ocorrerá se as assembleias de ambas as sociedades aprovarem a operação; logo, o conclave é formado por acionistas que votam e, portanto, manifestam sua vontade. Portanto, não é admissível a tese de que os acionistas quedam-se inertes e não manifestam suas vontades para alienar suas ações. Convém lembrar, ademais, que as operações de incorporação de ações são dirigidas e decididas pelo acionista controlador que detém o poder de controle das assembleias; logo, a tese da ausência do elemento volitivo por parte do acionista não seria aplicável ao acionista controlador. Além disso, nas operações realizadas por companhias fechadas a questão da falta do elemento volitivo é descabida se os acionistas aprovam por unanimidade a operação. É verdade que nas companhias abertas há acionistas que não votam ou que, mesmo podendo fazê-lo, não comparecem ao conclave, e, por isso, não manifestam a sua vontade. Todavia, mesmo em relação a esses acionistas a tese seria contestável porque em há a presunção legal de que devem suportar as consequências das decisões legitimamente tomadas pela maioria. O princípio majoritário é uma norma de calibração do ordenamento jurídico societário, e, em virtude dele, a deliberação tomada pela maioria produz efeitos na esfera jurídica de todos os sócios ou acionistas, e, com isto, são dadas condições práticas razoáveis para realização de operações de reorganizações societárias que, de outro modo, jamais chegariam a termo se os acionistas devessem contratar individualmente a troca e tais operações e seriam absolutamente infactíveis se algum acionista - por qualquer razão - não concordasse com os seus termos ou simplesmente deixasse de se apresentar para a contratação da troca. Não posso deixar de lembrar a lição de Trajano de Miranda Valverde (Sociedade por ações, v. 2, 1953, p. 110) a respeito do princípio da maioria, quando diz: "não há renúncia de direitos, mas, única e exclusivamente, sujeição da pessoa, que adquire a qualidade de membro da sociedade ou corporação, às regras que disciplinam as relações internas entre os seus componentes, regras dentre as quais figura, como elementar, a de que as resoluções se vencem por maioria".
Assim, parece claro que, de qualquer modo, o sócio ou acionista não é considerado um autômato: ele manifesta sua vontade quando adquire a condição de acionista e consente que neste ambiente (o da sociedade empresária) vigora o princípio majoritário que pode vir a produz decisões que irão interferir em sua esfera jurídica ainda que ele não esteja de acordo ou não tenha concorrido para formar a vontade que produziu a decisão. Portanto, esse argumento, na minha avaliação é o mais frágil de todos.
6 - Conclusões
Depois de tudo o que exposto parece claro que a matéria é altamente controversa. Lembro, no entanto, que em 18 de outubro de 2005, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 668.378-ES, decidiu que a entrega, por sociedade extinta, de ações do capital de outras sociedades não configura fato gerador do imposto de renda em face do seu caráter permutativo e que, por esta razão, não teria alterado para mais o patrimônio do recebedor das ações. Convém advertir que essa decisão examinou a aplicação da legislação tributária antes do advento da Lei nº 9.249/95, que, no artigo 22, regula a matéria, permitindo adoção do valor de custo ou de mercado para restituição de capital aos sócios. Embora esta seja uma decisão isolada e diga respeito a uma operação diferente da incorporação de ações, parece claro que constitui importante precedente em favor dos contribuintes.
Edmar Oliveira Andrade Filho
Advogado e parecerista em São Paulo. Sócio de Andrade e Ramalho Advogados Associados. Contador e autor do livro "Créditos de PIS e COFINS sobre Insumos", 2010, Editora Prognose.
Fonte: FISCOSOFT
Página 1 de 1
Ganho de capital obtido por pessoas físicas em operações de incorporação de ações
- ← Congresso tem centenas de profissões à espera de regulamentação
- Notícias
- Saiba por que os impostos não são os únicos vilões em preços de eletrônicos →
Compartilhar este tópico:
Página 1 de 1
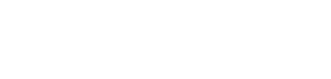
 Ajuda
Ajuda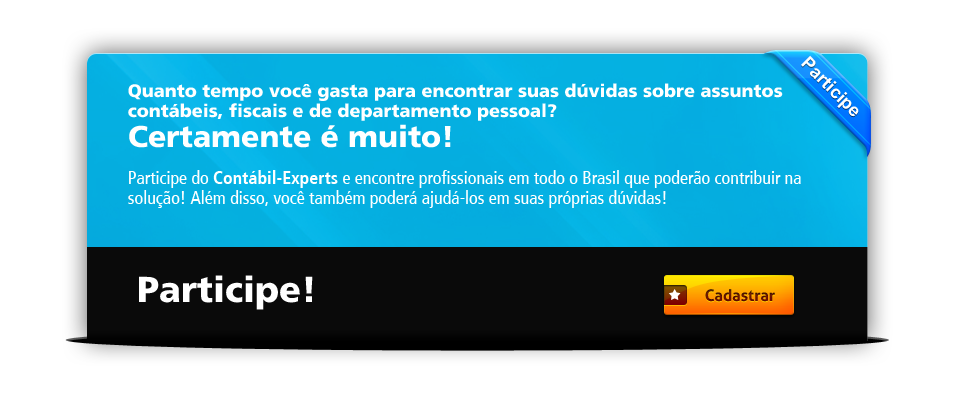


 Pontos: 20.00
Pontos: 20.00









